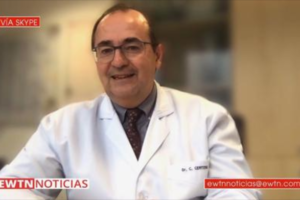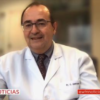O Rei Pelé (1940-2022)
Por Sérgio Rodrigues*
Quando lhe mostrei a ampliação em tamanho grande da foto em preto e branco, Pelé abriu um sorriso. Era um instante congelado de seu gol de cabeça contra a Itália na final da Copa de 1970, o primeiro da vitória de 4 a 1 que selou a campanha do tricampeonato mundial do Brasil no México: o zagueiro voltando ao chão, o Rei do Futebol desafiando a gravidade para permanecer mais um segundo lá no alto antes de fuzilar a meta de Albertosi.
“O Pelé tinha uma impulsão danada, rapaz”, disse Pelé. “Subia pra caramba.” De repente, o passado trazido pela foto pareceu muito distante. Eu estava em seu apartamento em São Paulo para entrevistá-lo para a revista Veja às vésperas da Copa de 2014, disputada no Brasil, e a atração gravitacional do presente se impôs. Um Pelé de 73 anos franziu o cenho: “Em todas as comparações que fazem do Pelé com outros jogadores, Maradona, Messi, Zidane, Cruyff, sempre existe uma coisa ou outra que dá para diferenciar. A impulsão é uma delas”.
Doeu ouvir aquela defesa espontânea, não provocada. Com a saúde e a mobilidade comprometidas desde uma mal-sucedida cirurgia no quadril, a primeira de uma série, em 2012, o brasileiro mais famoso de todos os tempos (com anos-luz de vantagem sobre o segundo colocado) estava na retranca de corpo e alma. Comparado desfavoravelmente com Maradona e Messi, gênios indiscutíveis que levam sobre ele a solitária — mas avassaladora — vantagem de terem nascido décadas mais tarde, o Rei sofria.
O ex-superatleta que tinha liderado a transformação do futebol no esporte mais popular do planeta estava velho e abatido. Era evidente que aguardava a chegada dos batalhões de súditos que ergueriam a voz em sua defesa, mas as vozes que se ouviam eram fracas, esparsas. Parecendo aturdido, enfrentava ao mesmo tempo o declínio físico e uma campanha antimajestade — às vezes sutil, outras vezes ostensiva — em duas frentes: uma esportiva, tendo como alvo o próprio Pelé, e outra dirigida ao cidadão Edson. Agora que morte e imortalidade fecham um ciclo, é hora de reavaliar os méritos de cada uma.
Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, de falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer no cólon. Pelé, de quem ele tinha o hábito marcante de falar na terceira pessoa, não morrerá jamais. Corrigindo sua célebre tirada sobre os 15 minutos de fama, o artista plástico Andy Warhol disse certa vez que a celebridade do Rei do Futebol duraria 15 séculos. Talvez tenha errado por um século ou dois, mas isso tem pouca importância se considerarmos que o mundo como o conhecemos deve acabar antes.
Com um pé na história e outro na dimensão das histórias, Pelé é inalcançável. O tempo não poupa nada, mas quando muitos quiseram declarar o feérico Maradona o maior de todos, foi o Rei o termo de comparação. Ao chegar a vez de Messi, maravilhoso jogador que conduziu a Argentina ao título mundial de 2022, o parâmetro ainda era o brasileiro. Como parece incurável nosso vício besta de desfazer do gênio para exaltar o gênio, em vez de desfrutar de todos, já se observa o mesmo com o fantástico Mbappé e tudo indica que será assim também com talentos que hoje são crianças ou ainda nem nasceram.
“Isso é ser Rei”, escreveu com felicidade o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, em sua coluna no caderno de Copa do Mundo da Folha. Essa referência interminável, régua com que todos são medidos, nasceu na Suécia em 1958, quando um garoto topetudo de 17 anos ajudou o Brasil a conquistar o primeiro de cinco títulos mundiais — e mudou os rumos do futebol para sempre.
Super-herói
Eis por que, embora sempre tenha despertado risinhos condescendentes, a dissociação que Edson criou entre si e o personagem Pelé faz sentido. Edson era um homem retinto nascido pobre em Três Corações (MG), nos cafundós de um país racista, em 23 de outubro de 1940 — apenas meio século após o fim da escravidão. Era o filho mais velho de Celeste e Dondinho, um bom jogador de futebol de carreira modesta. Pelé, bem, este é outro departamento.
A identidade de super-herói que Edson construiu para si era meticulosamente sobre-humana, a de um cidadão do mundo colecionador de alcunhas superlativas — além de Rei do Futebol, foi eleito o Atleta do Século (passado), por exemplo. Seu rosto se tornou um dos mais marcantes, senão o mais marcante, da mensagem de orgulho e emancipação da raça negra que varreu o planeta a partir dos anos 1960, na esteira da luta pelos direitos civis nos EUA e do espalhamento de uma tecnologia chamada TV.
Essa conjuntura histórica torna muito improvável que o futebol volte a produzir outro personagem tão gigantesco, embora seja hoje — ou justo porque é — uma indústria global incomparavelmente mais profissional, planificada e rica. O espaço para o sonho e a lenda encolheu diante da superoferta de imagens em HD.
É difícil imaginar astros como Messi ou Neymar, muito mais bem pagos, sendo recebidos na Casa Branca com a moral que Ronald Reagan deu ao Rei: “Eu sou o presidente dos Estados Unidos da América. Você não precisa se apresentar, todo mundo sabe quem é Pelé”. Ou estrelando uma superprodução hollywoodiana de John Huston ao lado de Sylvester Stallone e Michael Caine (Fuga para a vitória, 1981).
Não se conclua daí que o ídolo fosse maior fora de campo do que dentro. Uma coisa sempre se enraizou na outra. O equivalente esportivo às louvações de Reagan e Warhol é aquilo que disse dele o supercraque Ferenc Puskas, do Real Madrid e da seleção húngara de 1954: “O maior jogador do mundo foi [o argentino] Di Stéfano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele estava acima disso”. Se levarmos em conta que o próprio Puskas poderia reivindicar com mérito uma vaga na disputa dessa primazia, a frase ganha mais peso ainda.
Pelé foi uma máquina perfeita de jogar futebol. Com 1,74m, corria como um velocista, driblava como poucos e chutava igualmente bem com as duas pernas. Era difícil derrubar o homem. Cabeceava com perfeição (embora dissesse que seu pai tinha sido melhor nesse fundamento) e era dotado de uma imaginação fantasista, uma inteligência espacial e uma visão periférica quase sobrenaturais, além de coragem para dividir todas as bolas e uma dose de maldade para não sair quebrado desses choques.
Com a palavra, Tostão, seu companheiro de ataque na seleção tricampeã: “Seu futebol não admitia excessos, enfeites nem faltas. Ele quase não fazia embaixadas, não driblava para os lados, mas sempre em direção ao gol. Quando tentavam derrubá-lo, não caía, devido à sua estupenda massa muscular e equilíbrio”. Sim, Pelé tratorava o adversário. O jogador que mais se aproximou dele nessa junção estonteante de força, habilidade e equilíbrio em direção ao gol foi Ronaldo Fenômeno — que no entanto, entre outras diferenças, não sabia cabecear e só ganhou uma Copa.
Falácia da facilidade
Mais do que um apagamento da história, matéria infelizmente desvalorizada em nosso presente digital eterno, chegam a soar mesquinhas as tentativas de menosprezar Pelé que marcaram suas últimas décadas de vida. O principal argumento de quem desdenha dos seus feitos é o de que o futebol em seu tempo era “fácil”, semiamador, com especialidades como preparação física e planejamento tático ainda em níveis rudimentares.
É uma ideia curiosa: o que haveria de fácil em jogar com chuteiras e bolas pesadas e uniformes de malha grossa em gramados mais esburacados, contra adversários frequentemente mais violentos, diante de árbitros mais tendentes à omissão e de torcedores que invadiam o campo sem nenhuma cerimônia? E, ainda que fosse verdade, a mesma facilidade valeria para todo mundo, criando uma equalização de condições em que Pelé, de qualquer modo, se destacava. Não faz o menor sentido.
Um argumento primo desse é o de que o futebol no Brasil, onde Pelé disputou a maioria de suas partidas, era subdesenvolvido em relação ao que se praticava na Europa. Trata-se de mais uma bola fora. Dava-se o contrário: o jogo doméstico estava na vanguarda mundial naquele tempo, como provam os três títulos conquistados pela seleção brasileira com jogadores de equipes nacionais entre 1958 e 1970.
O Santos — time em que Pelé atuou a vida inteira até, semiaposentado, tirar as chuteiras do gancho em 1975 para defender o Cosmos de Nova York — era um gigante que excursionava com pompa o tempo todo, enchendo estádios e colecionando vitórias também em gramados europeus. Num desses tours, em 1959, a equipe brasileira meteu 7 a 1 na Internazionale de Milão, 5 a 1 no Barcelona e perdeu para o Real Madrid, na única partida em que se cruzaram Pelé e Di Stéfano, por 5 a 3.
Posta de lado a falácia da facilidade, torna-se mais difícil refutar a folha corrida do maior vencedor da história do futebol. Tenta-se mesmo assim. O Rei é o único jogador a ser três vezes campeão em Copas do Mundo e o único a marcar mais de mil gols — 1.282 no total, se levarmos em conta amistosos e jogos de exibição.
Eis um ponto polêmico: a Fifa decidiu expurgar todas as partidas não oficiais de suas estatísticas, surrupiando mais de 500 gols de Pelé para rebaixá-lo ao quinto lugar, logo atrás de Messi e Romário, num ranking liderado pelo português Cristiano Ronaldo. Jogos pouco expressivos foram excluídos da conta? Sim, mas também amistosos épicos como os mencionados aí em cima, contra as maiores equipes europeias da época. Julgue você, leitora ou leitor, a justiça disso.
Gol contra
Quanto a Edson, o alvo é bem mais fácil de abater. Ele mesmo reconhecia isso em 1980, quando declarou: “Perfeito é Pelé, que não erra, que é imortal. Mas o Edson Arantes do Nascimento é uma pessoa normal, deve ter um monte de defeitos que muita gente não gosta e recrimina”.
Sem dúvida, mas até aquele momento os narizes torcidos se limitavam a condenar traços como o conservadorismo político do ídolo (em plena ditadura militar, declarou que “o brasileiro não está preparado para votar”) e aquilo que muitos viam como ingenuidade e sentimentalismo nas posições que tomava no debate público (ao encerrar de vez sua carreira, em 1977, disse: “Julgo o amor a coisa mais importante na vida e que devemos nos ajudar sempre que possível. Digam comigo três vezes: amor, amor e amor”).
O golpe mais duro estava por vir. No primeiro de seus três casamentos, com Rosemeri dos Reis Cholbi, que durou de 1966 a 1980, Edson-Pelé teve duas filhas e um filho – este, Edinho, se tornaria goleiro de algum sucesso e acabaria preso por envolvimento com tráfico de drogas. No mesmo período, porém, cresciam outras duas filhas suas, frutos de relacionamentos extraconjugais. Uma delas, Flávia Cristina, acabou sendo reconhecida sem alarde. Mas a paternidade de Sandra, nascida em 1964 e tão parecida com ele quanto se tivesse sido clonada, Pelé optou por contestar na justiça enquanto pôde.
Claro que o episódio tem zonas de sombra como todo conflito de família. Nas poucas vezes em que falou do assunto, o pai de Sandra mostrou-se magoado com o que seria um interesse puramente financeiro e não afetivo da filha. Mais claro ainda é que a lei não quer saber de nada disso. Nem a opinião pública: quando Sandra morreu de um câncer de mama em 2006, a imagem de Pelé, que não compareceu ao enterro, estava arranhada para sempre. Até hoje essa falta de “amor, amor e amor” é o primeiro argumento sacado nas redes sociais por aqueles que gostariam de cancelá-lo.
Parece claro que o episódio é uma partida em que Pelé atuou como perna de pau e tomou justa goleada. No entanto, acredito não ser menos evidente que, num campeonato de pontos corridos entre o início e o fim da vida, o Rei tem imenso saldo positivo. A trajetória que acaba de se encerrar descreve uma curva assombrosa de mito, o maior símbolo de um certo potencial do Brasil para driblar suas mazelas e ser um país altivo, original e vencedor. Se esse potencial anda um tanto desacreditado, a culpa não é de Pelé.
Resta aos estudiosos a tarefa de investigar o quanto, no carinho escasso e na surda má vontade pública que o cercaram em sua velhice, havia de vingança do velho e encruado racismo brasileiro – e não só do brasileiro – contra um preto absolutamente genial que passou a carreira achincalhando seus preconceitos como se eles fossem zagueiros de cintura dura. Obrigado para sempre, Rei do Futebol.
*Sérgio Rodrigues é escritor, jornalista e roteirista de TV. Entre seus livros se destaca O drible (Companhia das Letras), romance que tem Pelé como personagem, vencedor do prêmio Portugal Telecom (atual Oceanos) de 2014. Lançou recentemente A vida futura.