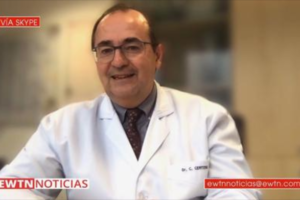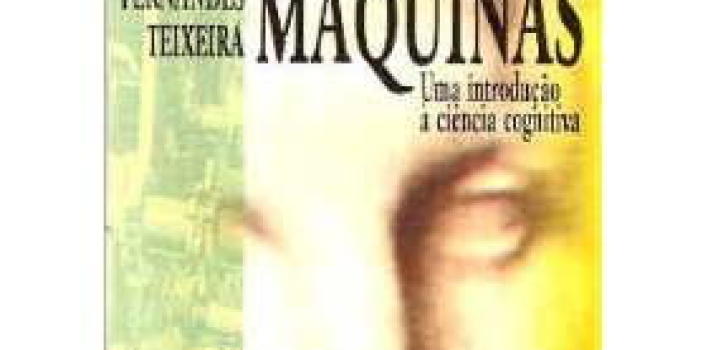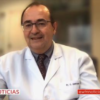MENTES E MÁQUINAS, OU O QUE TEM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL A NOS DIZER A RESPEITO DOS FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA?
Saulo de Freitas Araujo
Universidade Federal de São Carlos
Teixeira, J. F. (1998). Mentes e máquinas: Uma introdução à ciência cognitiva. Porto Alegre, RS: Artes Médicas.
Eis um livro importante para o leitor brasileiro interessado numa primeira aproximação à ciência cognitiva. Tendo em vista a escassez de publicações brasileiras nessa área, pode-se considerar o lançamento de «Mentes e Máquinas» – de João Teixeira – sobretudo por se tratar de um autor brasileiro, como um reflexo do crescente interesse que a disciplina vem despertando em nosso país. Entretanto, não reside aí o principal motivo para a leitura do livro.
Tendo por objetivo uma abrangente introdução à ciência cognitiva, Teixeira apresenta de maneira clara e sucinta as duas grandes abordagens dessa área, a saber, a simbolista e a conexionista, juntamente com outras tendências mais recentes e as principais discussões surgidas ao longo de sua constituição. Além disso, o livro é enriquecido com um pequeno glossário de termos técnicos – que facilita a leitura – uma bibliografia comentada e um panorama dos principais periódicos, sociedades e organizações, incluindo sites na Internet.
Há, de início, uma breve introdução histórica, onde o autor procura mostrar que a consolidação da ciência cognitiva só se tornou possível com o surgimento da inteligência artificial, em meados da década de 50. Já aqui é possível percebermos o prisma adotado por Teixeira para nortear sua apresentação, ou seja, diante da impossibilidade de se abordar exaustivamente, numa obra introdutória, as várias subdisciplinas da ciência cognitiva, ele opta pela inteligência artificial (IA) como fio condutor de sua exposição. Portanto, o leitor deve estar atento para o fato de que não há uma maneira unívoca de introduzir o assunto, de que poder-se-ia apresentá-lo de outras formas, havendo sempre uma certa variação conforme o eixo escolhido (filosofia da mente, neurociências, linguística, etc.).
Na primeira parte, Teixeira aborda o modelo computacional da mente proposto pelos defensores da IA tradicional ou simbólica. Ele define primeiramente algumas noções centrais da ciência da computação – como algoritmo, máquina de Turing e computabilidade – que fundamentam a metáfora computacional (a mente é um software) e toda a abordagem simbólica. Assim, ele retrata como a idéia de simular a mente tem origem no movimento cibernético, com sua intenção de modelar o cérebro através de circuitos elétricos. É com as críticas dirigidas ao projeto cibernético e, sobretudo, com o surgimento de uma nova arquitetura para os computadores (arquitetura von Neumann), que se começa a pensar na independência entre hardware e software e numa nova maneira de simular os processos mentais, desenvolvendo-se programas computacionais capazes de operar sobre determinados símbolos. Vale ressaltar que é neste contexto que nasce uma nova e influente filosofia da mente, que ficou conhecida como funcionalismo.1 Torna-se possível então, com base no funcionamento do computador digital, afirmar a analogia entre a máquina de Turing e a mente, sendo ambas um sistema lógico-formal, caracterizado por um conjunto de regras abstratas que produzem e manipulam símbolos. Os estados mentais seriam definidos, de acordo com essa concepção, pela função que estivessem ocupando num determinado momento.
Passando pelas grandes realizações práticas da IA simbólica, destacando aí os sistemas especialistas, chegamos enfim às críticas feitas ao seu grande projeto de simulação mecânica das atividades cognitivas. O autor considera três dessas critícas. Primeiro, os famosos ataques de Hubert Dreyfus à possibilidade dessa simulação mecânica, destacando a existência de características não-programáveis na linguagem e no comportamento humano. Segundo, o polêmico argumento do quarto chinês, de John Searle, referindo-se à ausência da dimensão semântica na manipulação de símbolos realizada pelo programa computacional. Por último, a objeção de Roger Penrose, baseada na idéia de que há processos mentais não-algorítmicos e, portanto, não computáveis. Todas essas críticas são de fato importantes e nos levam a refletir sobre os limites desse abrangente projeto da IA. Onde estaria a fronteira entre a computabilidade e a impossibilidade desta, no que se refere aos fenômenos mentais? Eis uma pergunta para a qual, ao que tudo indica, ainda estamos longe de obter uma resposta definitiva.
Na segunda parte, Teixeira aborda o segundo grande modelo da ciência cognitiva, a saber, o conexionista. Num certo sentido, podemos dizer que o conexionismo representa um retorno ao projeto cibernético e sua idéia de modelar o cérebro. Só que ao invés de circuitos elétricos, utilizam-se agora redes neurais artificiais, inspiradas na estrutura e no funcionamento cerebral. Podemos notar, desde já, a primeira grande diferença entre as duas abordagens: há, no conexionismo, uma recusa explícita da analogia entre a mente e o software. No entanto, o cérebro é visto como um dispositivo computacional, um sistema de processamento de informação, que possui suas unidades computacionais básicas (neurônios) e opera em paralelo. Daí a suposição de que é possível construir redes neurais artificiais para modelar o funcionamento cerebral. Também o tipo de computação envolvido é diferente nos dois casos. Na perspectiva simbólica, trata-se de transformações de símbolos através de regras pré-especificadas no programa. Nos sistemas conexionistas, as regras dão lugar a um conjunto de processos causais que excitam ou inibem as unidades básicas – que não são símbolos, embora possam em conjunto representá-los – surgindo desses processos o estado global do sistema em questão. Não se faz qualquer menção à idéia de algoritmo, já que não há passos previamente determinados. E, da mesma forma que o funcionalismo sustenta a perspectiva simbólica, podemos dizer que há, também no conexionismo, uma filosofia da mente que lhe serve de base, denominada emergentismo,2 segundo a qual os estados mentais emergem dos complexos padrões de atividade cerebral, sem que possam ser reduzidos às propriedades individuais de suas unidades básicas.
Embora o conexionismo tenha trazido, de fato, um novo impulso para as pesquisas na área, ele também apresenta dificuldades e tem sofrido críticas. Teixeira nos remete, por exemplo, às objeções de Fodor e Pylyshyn, que são defensores da perspectiva simbólica. No fundo trata-se de uma crítica metodológica, na medida em que esses autores insistem na inadequação dos sistemas conexionistas para modelar a atividade cognitiva. Segundo eles, tais sistemas são incapazes de modelar representações complexas, uma vez que suas unidades básicas não são símbolos e não há regras sintáticas de composição, que são características fundamentais no processo de formação de representações complexas. Se grande parte da atividade cognitiva pressupõe realmente uma lógica que opera sobre representações, então o conexionismo parece ter como limite a impossibilidade de modelar processos complexos como a linguagem e o pensamento. Além disso, existe uma restrição de caráter mais geral, que se refere aos limites do conhecimento de nosso próprio cérebro. Por mais que as pesquisas avancem, seremos no futuro capazes de representar completamente o cérebro? Caso contrário, como poderemos simular algo que não conhecemos?
Na terceira e última parte de seu livro, Teixeira se ocupa de algumas tendências recentes na ciência cognitiva. Assim, ele caracteriza inicialmente o movimento conhecido como vida artificial, que teve suas bases lançadas na década de 50 por John von Neumann e que consiste na tentativa de simular processos vitais e sobretudo a evolução, através de programas computacionais. Em seguida, passa a se ocupar da nova robótica, que tem como projeto principal a construção de agentes autônomos (robôs), com uma arquitetura especial que lhes permitem locomover-se e interagir com seu meio-ambiente. A realização máxima deste ideal está exemplificada pelo COG, o robô que está sendo projetado nos laboratórios do MIT e que é o mais poderoso de que se tem notícia. Teixeira nos apresenta ainda a escola chilena, de Francisco Varela, Humberto Maturana e outros, que propõem o conceito de enação (ação efetiva) como sendo central para o entendimento da cognição. Vale aqui notar a presença de um elemento comum a essas três tendências: uma forte crítica à inteligência artificial tradicional, crítica essa apresentada sob dois aspectos, a saber, um metodológico e outro filosófico. O primeiro se faz presente na recusa explícita da estratégia top-down de simulação da cognição – que parte das atividades cognitivas superiores para tentar chegar às mais básicas – e na adoção da estratégia bottom-up, que consiste exatamente no inverso.3 O segundo refere-se à crítica da idéia tradicional da representação como fundamento da cognição e à suposição de que é possível prescindir da noção de representação interna na modelagem do comportamento inteligente. Por fim, Teixeira aponta alguns caminhos futuros para a ciência cognitiva, enfatizando a necessidade de se produzir uma teoria unificada da cognição, que resolva o velho problema mente-cérebro e inclua a emoção em seu campo de abrangência. O problema é que a situação dispersiva atual parece estar longe de uma resolução.
No que diz respeito à avaliação crítica do conteúdo do livro, um julgamento justo deve se pautar, nesse caso, pelo respeito à abordagem privilegiada pelo autor, a menos que se quisesse questioná-la, o que não é a minha intenção no momento. Porém, se não podemos criticar o livro de João Teixeira pela sua incompletude, característica necessária de qualquer introdução à ciência cognitiva, podemos, por outro lado, apontar alguns aspectos importantes que, estando dentro do prisma adotado ao longo do livro, passam despercebidos pelo autor. Nesse sentido, ele não menciona, por exemplo, o enorme esforço que se tem feito nas pesquisas em IA para produzir sistemas mistos, procurando combinar o modelo conexionista com o simbólico, na tentativa de se superarem as principais dificuldades dos dois modelos. Há também um tópico que, embora ressaltado ligeiramente no decorrer do texto, mereceria, a meu ver, uma discussão mais detalhada, principalmente pela importância teórica que representa para o futuro da ciência cognitiva: o que se refere à questão da folk psychology.
Feita essa breve apresentação, gostaria de chamar a atenção do leitor interessado em psicologia para um ponto fundamental que, embora não tenha sido levantado e discutido explicitamente por Teixeira – o que também não era seu objetivo – está presente no decorrer de todo o livro: quais são as possíveis implicações das discussões ocorridas na ciência cognitiva para a psicologia? Independente de aceitarmos ou não as suposições básicas da IA, por exemplo, parece inegável que as discussões originadas em seu seio obrigaram-nos e ainda nos obrigam a refletir seriamente sobre o nosso objeto de estudo, levando-nos a repensar o emprego de velhos conceitos e de princípios não questionados. Pode a psicologia, por exemplo, ser realmente uma ciência da mente? Ou, por outro lado, devemos recorrer, como queria Skinner (1990), a uma análise puramente comportamental (behavior analysis), baseada nos princípios do condicionamento operante? E caso optemos por uma ciência da mente, qual seria a melhor maneira de caracterizarmos nosso objeto? Ora, os psicólogos não podem mais se furtar às reflexões provocadas pelo impacto e pelas realizações da inteligência artificial e de toda a ciência cognitiva, sob risco de perderem o rumo da história. Já que a palavra de ordem do momento é repensar a psicologia,4 como não incluir a ciência cognitiva nesse repensar?
Assumindo de antemão que a psicologia deve ser uma ciência da mente, destacaria antes de tudo um problema ontológico, que pode ser formulado da seguinte maneira: o que é a mente? Do que estamos a falar, afinal de contas, quando nos referimos a estados e eventos mentais? Com relação a esse primeiro tópico, a ciência cognitiva parece ainda não ter feito nenhum avanço muito significativo, o que pode ser inferido das inúmeras disputas e da falta de consenso entre os diversos autores. Nenhuma das caracterizações propostas para os fenômenos mentais satisfez até o momento o pré-requisito da completude.
Um outro problema, já este de caráter metodológico e brevemente acima referido, encontra-se diretamente relacionado ao problema ontológico, a saber, qual é o futuro da folk psychology? Se os psicólogos utilizam, em sua grande maioria, conceitos oriundos da linguagem popular na identificação dos fenômenos mentais, a possível tradução desses conceitos numa linguagem cientificamente neutra (cerebral), pretendida por alguns autores, acarretaria o fim de muitas teorias psicológicas. Mas será essa tradução/redução realmente exequível? E se apelarmos para uma eventual eliminação desses conceitos, ao invés de buscarmos uma tradução/redução?5 Um obstáculo que ainda parece intransponível é o caráter subjetivo de nossa experiência. Mesmo que obtenhamos no futuro, com o avanço das neurociências, uma equivalência total entre crenças, desejos, etc. e correlatos cerebrais, nós nunca teremos a experiência do disparo de um certo número de neurônios, o que restringiria sensivelmente a abrangência de uma teoria com tais conceitos. À primeira vista, portanto, parece que estamos metodologicamente justificados, ao nos referirmos a conceitos da folk psychology. No entanto, caso o programa eliminativista obtenha sucesso e consiga superar satisfatoriamente esse obstáculo, seremos obrigados a rever nossa posição.
Ainda no plano metodológico, há um ponto fundamental a ser ressaltado. Se nós não temos acesso direto a outras mentes, precisando para isso fazer inferências, quais seriam os critérios adequados para a atribuição de mentalidade?6 Podemos dizer, com base apenas no critério comportamental (output) que um programa computacional realmente simula a atividade mental? E o caso dos animais? Até que ponto poderíamos postular a existência de atividades genuinamente cognitivas nos animais? No que concerne a essa questão, as pesquisas tanto no âmbito da IA quanto no da etologia cognitiva trarão ainda novos elementos para que possamos pensar numa solução satisfatória. No entanto, não podemos nos esquecer de que muitas vezes precisamos mais de uma precisão teórico-conceitual do que de resultados empíricos.
Por fim, no que concerne ao plano epistemológico, há a premente questão dos modelos para ser analisada. Que tipo de conhecimento sobre a mente nos oferecem os modelos criados pela IA? Qual é a sua relação com a dinâmica interna de nossas atividades cognitivas e como podemos validá-los? Se de fato é imprescindível construir modelos para nos aproximarmos cada vez mais da realidade e obtermos uma melhor teorização em nossa disciplina, devemos estar atentos para uma avaliação mais rigorosa dos mesmos.
Sem pretender apresentar uma lista exaustiva de problemas colocados para a psicologia pela IA, creio ter ao menos ilustrado o título da presente resenha. Aliás, não só a IA, mas toda a ciência cognitiva parece ter realmente algo a nos dizer sobre os fundamentos de nossa disciplina, fato este que se torna mais evidente após a leitura de «Mentes e Máquinas.»
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Block, N. (1980). Readings in philosophy of psychology (Vol. 1). Cambridge, MA: Harward University Press.
Bunge, M. (1981). Scientific materialism. Dordrecht, Holland: D. Reidel.
Bunge, M. (1989). Seudociencia e ideología. Madrid, España: Alianza.
Churchland, P. (1993). Matter and consciousness. Cambridge, MA: MIT Press.
Dennett (1996). Kinds of minds. London: Weidenfeld & Nicolson.
Kim, J. (1996). Philosophy of mind. Boulder, CO: Westview Press.
Koffka, K. (s.d.). Princípios de psicologia da Gestalt. São Paulo: Cultrix.
Penna, A. G. (1997). Repensando a psicologia. Rio de Janeiro: Imago.
Searle, J. (1984). Mente, cérebro e ciência. Lisboa, Portugal: Ed. 70.
Searle, J. (1997). A redescoberta da mente. São Paulo: Martins Fontes.
Skinner, B. F. (1990). Can psychology be a science of mind?. American Psychologist, 45 (11), 1206-1210.
Smith, J. A., Harré, R., & Van Langenhove, L. (Eds.). (1995). Rethinking methods in psychology. London: Sage.
Smith, J. A., Harré, R., & Van Langenhove, L. (Eds.). (1995). Rethinking psychology. London: Sage.
Teixeira, J. F. (1998). Mentes e máquinas: Uma introdução à ciência cognitiva. Porto Alegre, RS: Artes Médicas.
1 Por motivos de economia, não vou me deter nas possíveis variações do funcionalismo enquanto filosofia da mente, apontadas, entre outros, por Block (1980); e por Kim (1996). Vale aqui apenas a caracterização geral de que os estados mentais se caracterizam pelo papel funcional que exercem na relação entre os inputs, os outputs e outros estados mentais, sem que haja a necessidade de fazermos qualquer referência ao plano material. É importante também ressaltar que o funcionalismo não implica necessariamente um posicionamento ontológico. Em outras palavras, um funcionalista não precisa se comprometer com o dualismo de substâncias, o que o permitiria evitar todas as dificuldades tradicionais geradas por tal concepção, além de tornar inócuas as acusações, feitas por alguns críticos, de um retorno ao mentalismo arcaico. Ver, a esse respeito, Bunge (1989, cap. 6). No entanto, o funcionalismo cria uma série de outras dificuldades, ao sustentar, por exemplo, a idéia de isonomia funcional para garantir a proliferação de «mentes» em outros meios físicos além do cérebro.
2 Também aqui não tenho a intenção de fazer uma extensa exposição do emergentismo. Para tanto, encontramos uma caracterização explícita em Bunge (1981). Muito próxima da concepção de Bunge está a de John Searle. Ver, por exemplo, Mente, cérebro e ciência (Searle, 1984) e A redescoberta da mente (Searle, 1997). De uma maneira geral, podemos dizer que o fundamental aqui é o conceito de emergência ou superveniência e o princípio de irredutibilidade, ambos sustentados a partir de analogias com fenômenos do mundo físico. Ao contrário do funcionalismo, o emergentismo implica necessariamente uma posição ontológica, a saber, o monismo materialista. Contudo, parece apresentar uma séria deficiência conceitual, na medida em que recorre simultaneamente às idéias de emergência evolucionária e irredutibilidade física, criando, assim, um enigmático dualismo de propriedades, como apontou Churchland (1993, chap. 2) em seu livro Matter and consciousness.
3 Trata-se de uma velha disputa metodológica que, no caso da psicologia, remonta ao início do século. A questão é saber se, partindo do elementar, é possível entender o complexo. Grosseiramente falando, poderíamos dizer que um behaviorista defenderia a estratégia bottom-up, enquanto que um gestaltista se voltaria para a top-down. Pode-se ver de forma mais clara essa contraposição metodológica da Gestalt em relação ao behaviorismo em Kurt Koffka, Princípios de psicologia da Gestalt, onde o autor faz uma diferenciação entre comportamento molecular e molar e afirma que é impossível entender o segundo a partir do primeiro (Koffka, s.d., p. 39). Em vista das limitações de ambas as estratégias metodológicas, talvez uma postura mais sensata seria uma combinação das duas, de acordo com a adequação da situação.
4 Tenho aqui em mente alguns livros lançados recentemente cujo título traz sempre uma alusão à necessidade de repensarmos a psicologia, como, por exemplo: Rethinking psychology (Smith, Harré, & Van Langenhove, 1995); Rethinking methods in psychology (Smith, Harré, & Van Langenhove, 1995); Repensando a psicologia (Penna, 1997).
5 É exatamente essa a proposta do materialismo eliminativo, proposto por Paul Churchland, que é uma tentativa de superar as dificuldades da teoria da identidade, sobretudo a realização de uma redução conceitual da folk psychology em termos da neurociência. De acordo com Churchland, a impossibilidade de uma tal redução não reside na inadequação de uma abordagem neurocientífica das atividades cognitivas, mas sim na falsidade das enganosas categorias da folk psychology. Portanto, não devemos esperar uma completa redução, mas sim uma eliminação conceitual, operada por uma neurociência amadurecida. Trata-se de um programa de pesquisa, cuja sustentabilidade vai depender de resultados empíricos, que ainda não foram alcançados. Pode-se encontrar uma introdução ao materialismo eliminativo no livro de Churchland (1993), Matter and consciousness.
6 Pode-se ter uma melhor compreensão desse tópico através da polêmica entre Searle e Dennett sobre a atribuição de intencionalidade. Ver, por exemplo, Searle (1997) e Dennett (1996). O que me parece fundamental nessa discussão é o perigo de cairmos numa espécie de panglossianismo mental – enxergando «mentes» por todos os lados – caso adotemos uma posição muito liberal em relação aos critérios de atribuição de mentalidade.